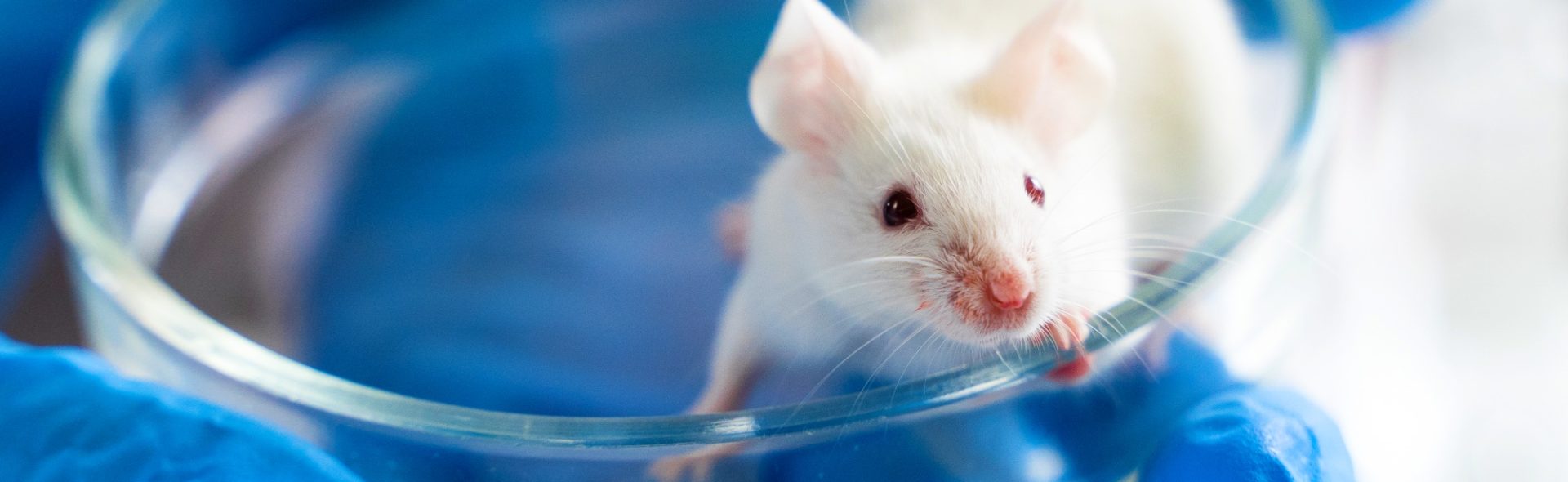Novos medicamentos e terapias moleculares (utilizando, por exemplo, anticorpos monoclonais) não precisam mais passar por testes pré-clínicos em animais para receber a aprovação do FDA (Food and Drug Administration, agência dos EUA equivalente à Anvisa). É o que decidiu uma lei americana sancionada no fim do mês de dezembro.
Essa é uma mudança significativa na legislação, já que os testes em animais eram obrigatórios nos EUA desde 1938. Pela nova lei, esse tipo de avaliação pode continuar a ser feito, mas deixa de ser um requisito para obter o aval do FDA.
Os testes em animais servem para fazer uma primeira avaliação da segurança e da eficácia dos novos produtos, antes que comecem a ser aplicados em seres humanos (nos chamados testes clínicos).
A nova norma veio na esteira da pressão de iniciativas de proteção dos animais. De acordo com a revista Science, esses movimentos argumentam que avaliações em camundongos, por exemplo, não são tão eficazes. Segundo pesquisas da área, cerca de 90% dos medicamentos que chegam aos testes em humanos acabam barrados por falta de segurança ou por não serem efetivos.
Ao mesmo tempo, todos os anos, dezenas de milhares de animais são submetidos a esses experimentos — o que acaba sendo também bastante custoso para startups e empresas que desenvolvem novos medicamentos.
POR QUE DEFENDEM O FIM DOS TESTES EM ANIMAIS
Por trás da nova lei americana, está o surgimento de novas tecnologias que têm o potencial de substituir os testes em animais, como modelagem computacional e organ-on-a-chip (microcanais de células que simulam as reações de um órgão ou de um sistema do corpo humano), entre outras.
Uma das startups que está justamente nessa fase de finalização dos testes pré-clínicos e início dos clínicos é a ImunoTera, que integra o Programa Einstein de Inovação em Biotecnologia.
Fundada por Luana Raposo e Bruna Porchia, a biotech está desenvolvendo uma vacina terapêutica que pode contribuir no enfrentamento do câncer relacionado ao vírus do papiloma humano (o HPV) a partir da ativação do sistema imune da pessoa.
“Nos testes de toxicidade, por exemplo, inoculamos a vacina terapêutica em um animal ao longo de 28 dias. No final, eles são eutanasiados, todos os órgãos são retirados, pesados e avaliados microscopicamente. Fazemos isso para avaliar onde a molécula [da vacina] foi parar no animal e também para descobrir a dose tóxica, isto é, até onde pode ser seguro ir medicando sem gerar problemas à saúde”, explica Raposo.
“Sou favorável ao uso ético e racional de animais em atividade de pesquisa e à substituição de alguns testes por métodos in vitro. Nossos estudos são pensados para usar o número mínimo de animais. Mas a tecnologia também precisa evoluir a ponto de mimetizar com precisão o que acontece em cada órgão, ao mesmo tempo em que os custos não aumentem a ponto de somente as grandes empresas serem capazes de desenvolver novos produtos”, acrescenta a empreendedora.
OS LIMITES DAS NOVAS TECNOLOGIAS
Um ponto que tem sido usado para defender, ao menos por enquanto, a manutenção dos testes em animais é que as novas tecnologias ainda não são capazes de simular a correlação entre todos os sistemas de um ser vivo e o medicamento.
“Nós vimos isso na época da COVID, em que a própria resposta do sistema imune da pessoa acabava gerando complicações”, lembra Raposo. “No caso da ImunoTera, é importante ver se a imunoterapia não causa uma ativação exacerbada do sistema imune. Muitas vezes, os efeitos gerados a partir da interação entre diferentes tipos de células são os que causam os principais problemas, e isso ainda vai ser difícil mimetizar com um chip.”
Com essas questões em aberto sobre as novas tecnologias, o FDA, na hora de avaliar um novo medicamento, pode considerar que os testes apenas com elas não foram robustos o suficiente e optar por barrar um produto — o que só seria contornado com os resultados de um pré-clínico em animais.
“A tecnologia sempre surge antes de ser aprovada”, diz Lucas Ariel, CEO da Mirscience Therapeutics, startup que também integra o Programa Einstein de Inovação em Biotecnologia.
Para ele, é importante que o FDA e outras instituições similares estejam abertos às novas técnicas, mas sempre priorizando a segurança dos pacientes. “O que essa lei vai fazer é abrir precedente para poder haver conversas com o FDA de que não é ilegal fazer o desenvolvimento de novos produtos com essas tecnologias alternativas”, diz.
A Mirscience busca produzir moléculas que possuem efeito no aumento da massa e da função do músculo esquelético para tratar doenças como a sarcopenia (relacionado ao envelhecimento), caquexia (associada ao câncer) e que possam promover a regeneração muscular. Está justamente na fase dos testes pré-clínicos para avaliar se a molécula pode regenerar o músculo-esquelético de roedores. Até aqui, os resultados têm sido promissores.
No Brasil, hoje é obrigatório que startups e empresas de medicamentos e vacinas façam os testes pré-clínicos em animais para obter aprovação da Anvisa. Já para quem busca liberação do FDA — para entrar no mercado americano — a nova legislação dos EUA passa a valer.
“Quem trabalha com biotecnologia sabe que é preciso um bom investimento para realizar o pré-clínico e um investimento muito maior para o clínico. Muitas startups param no meio do caminho porque não conseguem os recursos financeiros suficientes para isso. Se as novas tecnologias puderem baratear essa parte, o jogo muda para as startups de biotech, e não vai mais ser preciso levantar tanto dinheiro desde o começo”, explica.
“Mas o mais importante é que isso vai ser bom para o paciente, porque pode diminuir o tempo de desenvolvimento dos produtos para uma fração do tempo atual, de anos e anos”, complementa o CEO da Mirscience.